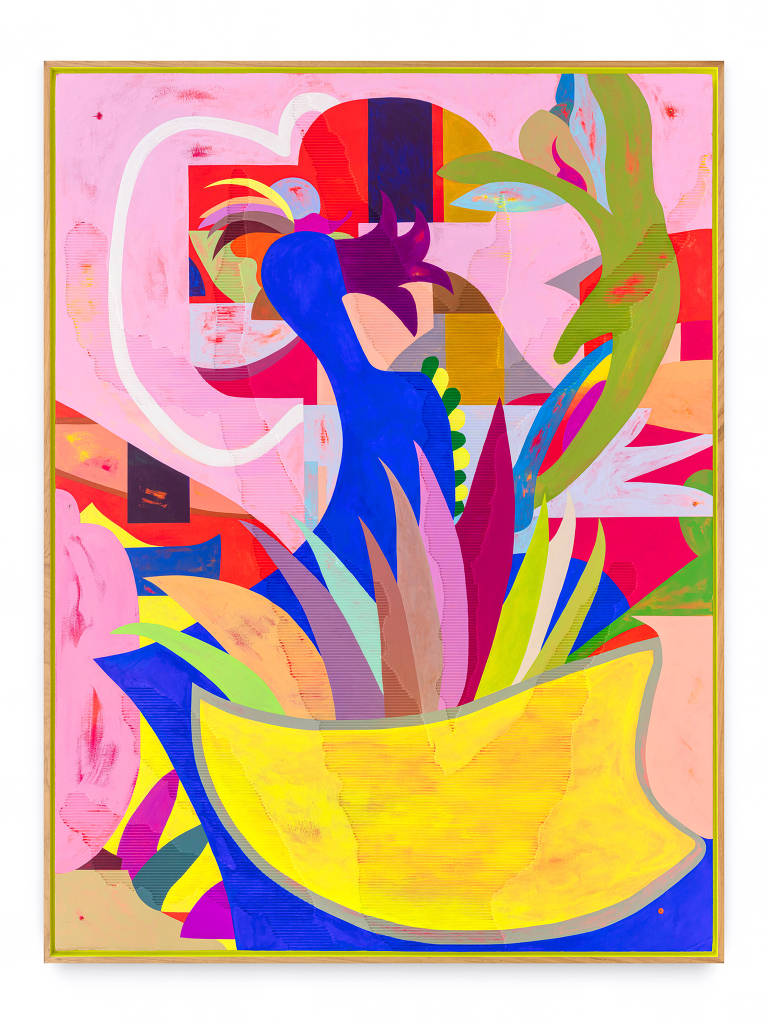A marxista italiana Rossana Rossanda nasceu hoje há 100 anos. O Partido Comunista do seu país procurava uma "via italiana para o socialismo" gradualista - mas ela insistia que a luta de classes na Itália estava ligada ao destino da revolução mundial.
O ano de 1945 foi um grande avanço para os comunistas da Europa. Paradoxalmente, o papel soviético na libertação do continente do fascismo alemão significou que os comunistas foram elevados ao poder nos países orientais, onde tanto o capitalismo como o movimento dos trabalhadores eram, na sua maioria, relativamente fracos. Também existiam Partidos Comunistas de massa no Ocidente. Mas as condições da Guerra Fria impediram-nos de ocupar altos cargos, inclusive graças à considerável atividade dos serviços secretos dos EUA - e na Grécia, a uma sangrenta guerra civil.
A base do comunismo como movimento de massas da Europa Ocidental foi o seu papel na luta contra o fascismo e a ocupação. Isto foi particularmente verdadeiro na França e na Itália. Em 1945, um governo trabalhista radical chegou ao poder na Grã-Bretanha, apoiado por sindicatos de adesão em massa, e os sociais-democratas e os comunistas cresceram rapidamente em toda a Alemanha do pós-guerra ocupada pelos Aliados. Mas foram especialmente o Partido Comunista Francês (PCF) - "o partido dos 75.000 executados" - e o Partido Comunista Italiano (PCI) que amadureceram e se transformaram em enormes organizações de massas.
O PCF francês cresceu de trinta mil membros antes da política da Frente Popular para meio milhão no final de 1945. Tornou-se imediatamente o partido mais forte no parlamento, com 26,2% dos votos e 159 assentos na Assembleia Nacional. Um ano depois, atingiu 28,3 por cento e 182 deputados. Na Itália, o número de membros do Partido Comunista aumentou de quinze mil para 1,7 milhão em um ano. Rapidamente se tornou um dos maiores partidos comunistas do mundo capitalista, superado apenas pelo partido indonésio, que atingiu o pico de três milhões de membros antes do genocídio anticomunista de 1965.
Quando o exército dos EUA iniciou a invasão de Itália no Outono de 1943 e abriu caminho para Roma em junho de 1944, a percepção era que a Itália só conhecia "padres e comunistas". Esta é a realidade por trás das histórias satíricas de Giovanni Guareschi sobre o padre Don Camillo e o seu homólogo Peppone, um comunista que governa uma pequena cidade rural.
O sucesso dos comunistas italianos também deveu muito à sua independência. Isto foi enfatizado até mesmo pelo lendário presidente Palmiro Togliatti, companheiro de longa data de Antonio Gramsci. No entanto, após sua morte em 1964, os soviéticos nomearam uma cidade industrial em sua homenagem. O líder Enrico Berlinguer reforçou este caminho italiano para o socialismo na década de 1970. Os seus oponentes de esquerda no interior do partido, em torno de Pietro Ingrao, Rossana Rossanda e Lucio Magri, também defenderam tal caminho. O PCI "italianizou" o comunismo e não baseou as suas políticas exclusivamente na política externa soviética. Segundo Rossanda, o sucesso do PCI deveu-se ao fato de "ainda estar discutindo e discutindo", e não a ser um monólito. Isto também produziu uma atmosfera intelectual vibrante, onde Rossanda foi uma das luzes brilhantes da criatividade marxista.
Um partido orgulhoso da qual nada resta
No entanto, quase nada resta deste orgulhoso partido depois de 1991. Nesse momento, não só perdeu membros e eleitores, mas também o seu nome e caráter. Negou ambos, na crença enganosa de que o termo "comunista" e o antigo programa eram meros obstáculos eleitorais. Os sucessos recentes do Partido Comunista Austríaco em alguns dos lugares mais burgueses imagináveis, como Salzburgo, mostram como isto era desnecessário.
O PCI transformou-se primeiro no Partido da Esquerda Democrática (PDS) e em 2007 no Partido Democrático (PD). Esta aliança desajeitada e ampla é explicitamente modelada no Partido Democrata dos EUA - um pouco social, um pouco verde, mas acima de tudo completamente liberal e antimarxista. Isto não ajudou: hoje tem apenas cento e cinquenta mil membros e apenas cinco milhões de eleitores, nem sequer metade dos resultados típicos dos comunistas na década de 1980.
Quase nada resta do comunismo italiano hoje. Um dos sistemas políticos mais estáveis do período pós-guerra, dominado por uma forte Democracia Cristã (DC) e pelos Comunistas, é emblemático da fragmentação dos sistemas partidários e da instabilidade. Tal como os comunistas, a grande tenda DC também se desintegrou a partir de 1992 como parte do escândalo de corrupção "Tangentopoli".
Sem o autodesmantelamento do PCI, Silvio Berlusconi, a Liga do Norte e a Alleanza Nazionale de extrema-direita não teriam conseguido o seu avanço. E a Itália não seria governada hoje pela (pós-)fascista Giorgia Meloni, que, cortejada por aliados internacionais, está ainda melhor nas sondagens do que em 2022. Acima de tudo, nunca teria existido o Movimento Cinco Estrelas - nem um partido de esquerda, mas um aspirador capaz de sugar o estrondoso mal-estar social.
Em 1975, o historiador marxista britânico Eric Hobsbawm disse que devido ao papel de liderança dos comunistas na Resistência "na vida da nação italiana" tinha havido "a continuação de uma hegemonia cultural de tendências antifascistas, democráticas e progressistas [...] em contraste com o que aconteceu na Alemanha Ocidental". Na Itália, parecia não haver "mais intelectuais de direita" depois de 1945. Então, como é que este país, onde quase todas as aldeias ainda têm uma Via Gramsci, se tornou a terra de Berlusconi e Meloni?
O caminho para o comunismo
A biografia da intelectual marxista Rossana Rossanda é reveladora. Mais tarde, ela se descreveu como uma "típica intelectual burguesa que fez uma escolha comunista".
Ela nasceu em Pola, na península de Ístria (hoje Pula, Croácia), onde sua mãe possuía "ilhotas" inteiras. Mas ela cresceu em Milão, onde também estudou. Em 1943, juntou-se à Resistência antifascista através do seu professor de filosofia Antonio Banfi, cujo filho Rodolfo mais tarde se tornou seu primeiro marido. Como partidária "Miranda", ela viajou como mensageira. Mais tarde, ela refletiu:
Quando o fascismo explodiu, durante a guerra... com violência, perseguição e morte... a mera compreensão já não bastava, era preciso intervir. Aqueles que atingiram a maioridade naqueles anos nunca conseguiram ver a busca pela sua identidade como um assunto privado. O mundo inteiro passou por cima de nós e tem feito isso sem parar desde então.
Da Resistência, Rossanda encontrou o seu caminho para o movimento operário liderado pelos comunistas. Na primavera de 1945, ela foi uma das milhões que aderiram ao PCI. Ela se tornou uma traidora de classe. Isso não era apenas consequência do reconhecimento teórico, mas também encorajado pela realidade que estava diante dela. Na Milão industrial, emergiu um novo e poderoso movimento operário, com "fortalezas vermelhas" nos pneus Pirelli, na siderúrgica Falck e nas obras de engenharia da Magneti Marelli.
Como ainda era típico da sua geração, para Rossanda o amor pela literatura e a luta de classes andavam de mãos dadas. Ela escreveria com tanta elegância sobre economia política e imperialismo quanto sobre Virginia Woolf e o historiador de arte Aby Warburg. Ela traduziu A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, Antígona, de Sófocles, e Os Enganados, de Thomas Cullinan.
Rossanda teve um caso de amor especial com a cultura da Alemanha, que acabava de cobrir o mundo com uma barbárie sem precedentes. Isto é surpreendente hoje, quando grandes humanistas, de Leo Tolstoy a Anton Chekhov, estão sendo banidos dos programas e currículos devido à demonização de todas as coisas russas. “A cultura alemã”, escreve ela a certa altura, é “objeto da minha admiração, [Georg Wilhelm Friedrich] Hegel, meu avô, [Karl] Marx, meu pai, [Bertolt] Brecht, meu irmão, e Thomas Mann, meu primo”.
Rossanda trouxe este conhecimento burguês para o movimento proletário. Em Milão, chefiou inicialmente a “Casa da Cultura” do PCI, tornou-se membro do conselho municipal, membro do Comitê Central e, a partir de 1963, deputada. Para ela, a política era, como para Rosa Luxemburgo, a totalidade da vida em todos os seus aspectos sensuais: o “caminho para o conhecimento”, uma “educação sentimental estrita“: um “caminho através do sofrimento e das paixões, através das amizades e controvérsias, através da confiança e despedida...”
A motivação de Rossanda foi a libertação da humanidade. Ela sonhava com uma revolução mundial. Ela viajou para a Espanha franquista em uma missão secreta em 1962 em nome do PCI e de um “comitê democrático” não partidário para sondar as perspectivas do Partido Comunista e de uma “revolução democrática”. Ela foi para Espanha perguntando-se: “Será que a revolução no Ocidente poderá estar de volta à agenda?”
O fato de ela ser uma mulher entre os líderes comunistas suscitou pouca reflexão específica. Ela disse sobre sua carreira: “Estávamos autoconfiantes porque sabíamos - depois de observar como nossas mães e tias viviam - o que não queríamos. O mais alto nível de educação e participação ativa nos salvariam.” Somente no final da década de 1970 ela também pensaria mais sobre a feminilidade.
Pensando para a revolução
O pensamento de Rossanda era vividamente marxista. A ortodoxia intelectual lançou as bases para o foco, a perseverança e o pensamento sistemático. Assim, permaneceu isento de arbitrariedade, preguiça de pensamento e modismos intelectuais. Pensar no e para o partido fazia parte de uma busca coletiva de sentido. No entanto, havia também uma certa heterodoxia, permitindo uma criatividade intelectual sem limites.
Consciente da incompletude do trabalho de Marx e da sua constante necessidade de aplicação, Rossanda baseou-se em toda a herança teórica do movimento operário - incluindo os seus elementos mais impopulares - para informar a mudança prática. Uma vontade irreprimível de estudar e de chegar a uma compreensão leninista da verdade permitiu uma abordagem concreta de todas as muitas cores da realidade e das forças que poderiam revolucioná-la.
Rossanda é frequentemente comparada a Luxemburgo. Ela certamente se via no espírito da revolucionária polaca, em uma altura em que o seu “espontaneísmo” ainda era visto com suspeita pelos defensores da ortodoxia marxista-leninista. Rossanda certa vez descreveu o seu movimento de pensamento sobre a revolução de classe, partidária e proletária como: "Começando com Marx, estamos gradualmente retornando a Marx".
O seu pensamento é melhor compreendido como a busca de uma revolução mundial. Em última análise, seu pensamento dialético mediu tudo em relação a essa questão. Embora tenha crescido no espírito de Gramsci - o teórico do fracasso da revolução no Ocidente - ela falou de revolução em vez de transformação. Ela argumentou veementemente contra "a redescoberta da [supostamente] rejeitada 'superestrutura'", bem como contra o "slogan da autonomia da política" que mais tarde ficou "na moda".
Rossanda também era uma "otimista de vontade". Ao contrário de pessoas como Theodor Adorno ou Louis Althusser, ela estava preocupada com a “dialética da ruptura e da continuidade” e com as janelas de oportunidade para a ação revolucionária no caminho para o socialismo. Mas, ao contrário dos pós-operaistas posteriores, que abandonaram a classe trabalhadora como sujeito de mudança, ela não era uma voluntarista idealista. Seu pensamento marxista nas relações materiais de poder e suas combinações a impediu de fazê-lo.
Mas como funciona a revolução? Rossanda observa que “não consegue encontrar uma definição de revolução em nenhum lugar da obra de Rosa”. “Como eu poderia encontrar uma? Você não define o que você vive.” Mas ela mesma a definiu: a revolução, escreveu ela em 1969, é “o resultado indissolúvel do amadurecimento material da luta de classes, da sua autoformação em formas políticas de expressão e da formação subjetiva da consciência, através da qual nenhum dos três momentos pode ser separado dos outros.”
Tal "concepção" não permite "interpretações mecanicistas nem evolucionistas, porque vê o motor da violência do proletariado irrompendo", nem pode "ser equiparada a um desígnio subjetivo... uma consciência histórica e de classe diante da história e da classe."
A consciência de classe surge “no decurso da luta”. A classe trabalhadora continua sendo “o sujeito histórico permanente” porque o capitalismo cria a classe trabalhadora em “forma e dimensão” e “também alienação”; o que o faz “negar o capitalismo é a sua posição real. A luta de classes tem as suas raízes materiais no próprio sistema-mecanismo.”
Rossanda seguiu a visão de Gramsci de que a revolução nos capitalismos ocidentais desenvolvidos, ao contrário das periferias dependentes como a Rússia, é bem-sucedida como uma “guerra de posição”. Prosseguiria através da luta pela hegemonia por parte de um “bloco histórico” de classes não antagônicas, em vez de uma “guerra de movimento” modelada na “tomada do Palácio de Inverno”. De acordo com a visão luxemburguesa de Rossanda, isto também produziria um melhor ponto de partida para a construção do socialismo.
A “maturidade de uma revolução social” é caracterizada pelo fato de que “vai além de uma [revolução] meramente política” e, portanto, “será mais radical do que uma revolução política; não será jacobina [centralizada, de cima para baixo] e, portanto, não será autoritária”. Rossanda coloca a seguinte questão como questão norteadora da revolução: “Que tipo de Estado e instituição é capaz de garantir a preservação da aliança revolucionária para a classe trabalhadora e o povo - uma formação complexa - e ao mesmo tempo mudar as instituições herdadas da divisão social do trabalho, ou seja, estabelecendo uma racionalidade diferente de produção?”
Nesta visão, o partido não é um fim em si mesmo. A questão importante é que benefícios isso oferece à (auto)libertação revolucionária da classe trabalhadora. Rossanda estava preocupada com a migração do processo revolucionário no século XX para os elos mais fracos do sistema imperialista mundial, enquanto o capitalismo se estabilizava no núcleo imperial. Ela estava preocupada com o fato de na periferia a revolução não ter sido levada a cabo pelo proletariado industrial, mas principalmente por pequenos agricultores e trabalhadores agrícolas.
Segundo Vladimir Lenin, a "cadeia imperialista" se rompe primeiro na periferia. Aqui, Rossanda conclui:
O confronto deve... ser devidamente preparado: quanto mais "imatura" é a sociedade, mais a vanguarda tem a tarefa de encurtar, por assim dizer, a distância entre as condições objetivas de exploração intolerável e a eclosão aberta do conflito, rasgando os explorados e oprimidos... por sua ignorância ou resignação - transformando-os... em revolucionários.
Mas uma vez que as possibilidades de sucesso da revolução nas formações dependentes dependem da revolução nos centros, também se trata dos países capitalistas centrais. No entanto, uma vez que prevalece uma estabilidade completamente diferente nos centros, surge aqui uma forma partidária diferente: a do partido de massas baseado em classes.
Il Manifesto
Poucas semanas depois destas deliberações, Rossanda foi forçada a sair juntamente com outros membros de esquerda do PCI, incluindo outros dois do comitê central. O fator decisivo foi a fundação do seu próprio jornal: Il Manifesto.
Tais iniciativas independentes muitas vezes levaram a expulsões: desde o Reasoner de E. P. Thompson, que levou à retirada da "Primeira Nova Esquerda" do Partido Comunista da Grã-Bretanha (CPGB) em 1956, até o "Debate de Düsseldorf", que provocou expulsões do Partido Comunista Alemão (DKP) em 1984.
Ainda assim, ao contrário do Reasoner, o manifesto surgiu apenas parcialmente em oposição às justificativas do partido para a política externa da URSS. Ao contrário do PCGB, um distanciamento relativo do "socialismo realmente existente"de estilo soviético era, em qualquer caso, compatível com elementos centristas e de direita no PCI. Pelo contrário, a preocupação da esquerda do PCI era que a chamada "via italiana para o socialismo" já não conduzisse a esse ponto final. Pelo contrário, representou um abandono da revolução em favor de ilusões reformistas. Esta crítica, e não a (não)reação do PCI à supressão da "Primavera de Praga", foi decisiva.
O manifesto não foi um capricho repentino, mas o resultado de um longo processo de alienação do PCI. Rossanda data o início em 1962, e a referida viagem à Espanha franquista em nome do partido. A viagem trouxe "dúvidas à luz", “o que mais tarde deu o impulso” para uma nova partida. Na altura, ela sentiu “que as coisas, quando expostas à luz da experiência, revelavam padrões e proporções diferentes” daqueles defendidos pelos comunistas. “E provavelmente não há comunista que não fique inquieto quando reconhece o seu partido, em qualquer situação, como cego.”
She had headed to Spain with the idea of a “democratic revolution,” which was to lead to socialism on the ruins of the dictatorship. Ultimately, the assumption was that the fight against Francisco Franco would strengthen the movement much as the popular-front strategy had bolstered the PCI after 1944. The hope was that the Spaniards would have more luck after the end of their “fascism” than the Communists in Italy or Greece.
Back then, Rossanda writes, “for the first time a calculation did not work out.” “We had certainly felt the blow of 1956; we were certainly tormented by the open wound of ‘actually existing socialism’... But in our own house... we considered ourselves knowledgeable.” From Spain, she developed a critique of the popular-front strategy because there is no “democratic revolution” that would “lead us close to the wall that separated us from socialism.”
The alienation intensified over the next four years. Togliatti died in 1964, and the question of his legacy occupied the 11th Party Congress two years later. This itself marked a rift. The congress discussed the “betrayal” of the revolution and the popular-front strategy — a harbinger of the “historic compromise” with Christian Democracy, i.e., the party of the bourgeoisie. The party conference ended in defeat for the Left. As Rossanda put it, “De facto, I was only expelled three years later, but the separation took place when I stopped thinking ‘within the party and for it’ for the first time since 1943.”
Yet this alienation also favored intellectual creativity. Her theoretical texts on Mao Zedong, party, class, and revolutionary theory were written under the “well-founded assumption of my heterodoxy.” She “rehabilitated the classics of heresy,” above all Luxemburg. “In my head, as in other heads, a ‘left-wing revisionism’ was clearly taking shape.”
For the PCI’s left flank, the mirror image of social democratization in the West was the betrayal of the revolution in the East. The Soviet Union’s foreign policy, defensively focused on securing its existence while avoiding conflict with the United States, prevented new revolutions. While the USSR no longer sought to export the revolution and looked skeptically at Che Guevara’s adventures in the Congo or the US backyard of Bolivia, the PCI was revolutionary in name only: there were postrevolutionary states in the Eastern Bloc and a postrevolutionary party in Italy. Rossanda eventually felt vindicated by the suppression of the coup in Chile in 1973 by the US-backed military — she had visited Chile and had sympathized strongly — given that, unlike with the Cuban Revolution fourteen years prior, now the USSR and China essentially tolerated its suppression.
Olhando para trás, ela escreveu em 1977:
A identificação do "socialismo realmente existente" com o movimento anti-imperialista, socialista e anticapitalista no Ocidente... dissolveu-se na década de 1960, por várias razões: Devido ao cada vez mais evidente papel de grande potência da URSS; a divisão que ocorreu entre... a URSS e a China; na sequência da política externa mutável da China, que oscilava constantemente entre o auto-isolamento e a defesa dos países isolados do Terceiro Mundo; [e]... pela desastrosa... invasão da Tchecoslováquia.
Desde então, a ajuda revolucionária da URSS e da China tornou-se "cada vez mais... misturada com os seus interesses no tabuleiro de xadrez mundial". Com o apoio do Vietnã, "tudo se esgotou... Os camaradas vietnamitas venceram porque a URSS e a China existem, mas também... embora existam". "No geral, o 'socialismo realmente existente' hoje não é um modelo nem uma garantia para revoluções futuras e diferentes."
After the Chilean events, Rossanda’s thinking turned on the question of how a revolution in Italy could escape this fate. This also raises the question of “whether a revolution is possible at all without being supported or guaranteed by. . . the USSR and China.” In fact, “no revolution can escape the obligation” to “deal with the present crisis of the USSR and the ‘socialist’ camp, resulting from internal as well as external factors. It has become our own serious problem, whose solution cannot be put off.”
With this outlook in mind, Rossanda organized an important international conference on “postrevolutionary societies” in 1977. This approach was light-years away from today’s usual left-wing moralism, which first celebrates breakthroughs — Syriza’s election in Greece or the Bolivarian Revolution in Venezuela — projecting their illusions onto these experiences, only then to demonize them after their defeat. Similar thinking to Rossanda’s today would also demand the development of a position on China as a world-historical force. Instead, many leftists maintain a helpless non-position or even allow themselves to become the useful idiots of Western imperialism and a devastating new bloc confrontation.
Rossanda estava familiarizada com esta atitude apolítica. Em 1981 ela escreveu:
Velhos e novos esquerdistas, agarramo-nos à última revolução que se nos apresenta... Somos os drones dos projetos e práticas dos outros. Parasitamente, participamos de suas convulsões e lutas, exceto quando perdem; então nos retiramos, ressentidos e taciturnos. Somos os primeiros a antecipar o julgamento da história com o carimbo dos arquivos; conhecemos os erros dos outros até o último detalhe, amamos as decepções e as destacamos meticulosamente para justificar nossas próprias atitudes comprometedoras.
No seu discurso de encerramento da conferência de 1977, ela insistiu: "Por mais imperfeito e cheio de culpa que o socialismo possa ter aparecido nestas sociedades, do outro lado da barricada estavam o imperialismo, o colonialismo e, finalmente, o fascismo".
Esperanças do 68
Rossanda sofreu com a paralisação da revolução no Oriente e no Ocidente. A invasão soviética de Praga não foi o gatilho, mas um sintoma dos processos que levaram ao Il Manifesto. No ano internacional de 1968, incluindo a Primavera de Praga, ela viu o potencial para um movimento operário revolucionário e revivido: como ela disse, “1968 lavou a minha melancolia”.
The “ingraiani,” named after the “leader of the [PCI’s] left wing” Ingrao, saw the world on the move. Ingrao, who remained loyal to the party, was given the label of movimentista — “the movement-oriented Communist.” For her part, Rossanda traveled to Paris to study the French May. In 1968, her book The Year of the Students was published; like her comrade-in-arms Magri in his own book, she pleaded for an alliance between the student revolt and the workers’ movement. Many students attributed the subjective failure of the longed-for revolution to their lack of connection with the working class. But connections were made as a result.
O ano de 1968 interessou a Rossanda, de 44 anos, pelo seu espírito de revolta, que ela queria contagiar o movimento operário tradicional. Quatro décadas depois, ela refletiu:
A geração de 1968 teve o ímpeto de romper com os velhos hábitos. Mas eles não tinham cultura política própria. O PCI, por outro lado, tinha uma longa tradição política, mas tinha perdido toda a vontade de provocar mudanças sociais. Acho que poderia e deveria ter havido um diálogo... Não aconteceu. A diferença geracional era muito grande.
O fracasso teve um efeito devastador: “A maioria das organizações e formações políticas da esquerda histórica dos séculos XIX e XX entraram em colapso internamente e não foram capazes de se recuperar”.
O rompimento de Rossanda com o PCI ocorreu em 1968 e a oportunidade foi perdida. Assim, "numa noite de julho de 1968, disseram-me mais uma vez as razões pelas quais o partido tinha que agir com cautela, caso contrário entraria em colapso... Naquela época, puxamos os primeiros cordelinhos para o manifesto... Eles nos fecharam fora. Mas não fomos jogados sobre nós mesmos: fomos lançados em um processo histórico no qual tivemos que navegar."
Comunismo: derrotado, mas necessário
Il manifesto’s platform published in September 1970 stated that the “communist perspective” was the “only alternative to the catastrophic tendencies of today’s world.” However, the “parliamentary path” to socialism was an “illusion” and the “center left” (1960s coalition of Christian Democrats and Socialists) had failed. Social democratic reformism” had made itself the “pillar of capitalism and its state.” The prospect of a future “subaltern entry of the PCI into government” would be a strategy of co-optation by the bourgeoisie, which would “not solve the crisis, but exacerbate it.” It was necessary to “develop the theory of revolution in the West” and “build a truly revolutionary force.”
Rossanda was no sectarian. She was aware of the importance of the class-based mass party for the revolution in the West. Looking back, she wrote: “The fact is that certain voyages can only be undertaken in large ships.” Il manifesto initially sparked considerable momentum. Local groups emerged in almost all Italy’s major cities. “It’s not a split,” wrote Rossanda, “it’s a real hemorrhage that refuses to calm down.” The newspaper, which appeared daily from April 28, 1971, soon had sixty thousand subscribers.
The main party project was the “Party of Proletarian Unity” (PdUP). But the attempts to found a stable party to the left of the PCI were disappointed. The PdUP failed in elections. At Berlinguer’s suggestion, it rejoined the PCI in 1984, albeit without Rossanda.
Increasingly, Rossanda saw rising neoliberalism as the main cause of the defeat that broke the back of the workers’ movement in the West and the anti-imperialist movements in developing countries — while also increasing the pressure on actually existing socialism. Rossanda saw the collapse in the Eastern Bloc as a catastrophe. In 1994, she described the “pull” that “brought down the idea of a possibly different society with the regimes of the East.” But: “The crisis of the ‘revolutionary’ space had been brewing for a long time.”
The neoliberalization of the social democratic parties, including the degeneration of the PCI into today’s Democratic Party, for Rossanda expressed the eradication of an “entire idea of social transformation.” She saw the first Gulf War as the prelude to a new imperialism. Unlike those leftists who today invoke the need to support an invaded sovereign country while they actually support a proxy war by their own imperialist states (against Russia, and, lurking behind, China), Rossanda and Ingrao rejected thinking about imperialism in moralistic and liberal terms.
The new world order of global capitalism was already apparent to Rossanda and Ingrao. They wrote in a joint manifesto in 1995: the Gulf War is the “turning point in the geopolitical world situation”: not only is “new terrible technology being tried out, but also no less alarming categories of thought are being made acceptable: the concept of ‘just war’... the notion of ‘international police action,“ with which “a new authority has been enthroned that arrogates to itself the right to impose a new world order” that “renews the domination of the North over the southern hemisphere.”
Rossanda was stunned by the complete disappearance of the socialist left. In an interview in 2018, she lamented: “Everything, everything has been lost. The voice of the humiliated and insulted can no longer be heard anywhere.” Even in the early 1990s, she wondered whether she was looking for answers to questions that no one was asking anymore. She probably remembered her trip to Spain. At the time, a Socialist Party representative explained to her what defeat means: “[T]hrown back into silence, you notice the absent-mindedness of those who saw you as a symbol and who do not forgive you when you are no longer one; sometimes they regret you, but generally they forget you.”
Her 2005 autobiography (published in English as
The Comrade from Milan) featured her memoirs up to 1969. Rossanda asked: “Why were you a communist? Why do you say you still are?” She described herself as a “defeated communist.” Communism had “failed so miserably that it was essential to come to terms with it.” It “may have done wrong things, but it wasn’t wrong.”
Rossanda died in 2020 at the age of ninety-six, after over three-quarters of a century in the movement. After her death, Deutschlandfunk reported that things had become “very lonely around left-wing intellectuals” like her. But only “history will show” whether her life truly ended in defeat.
Colaborador
Ingar Solty é investigador sênior em política externa, de paz e de segurança no Instituto de Análise Social Crítica da Fundação Rosa Luxemburgo, em Berlim.